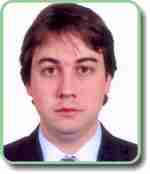|
||
|
publicado em 28.02.2013
|
||
|
Com o avanço dos métodos de comunicação e o melhoramento das vias internacionais de comércio e transações financeiras, a criminalidade organizada passou a ganhar espaço neste ambiente mais globalizado. O chamado “lucro fácil” obtido com a prática de crimes de tráfico e lavagem de capitais colocaram em cheque o poder de prevenção que a doutrina tradicional sempre atribuiu à pena corpórea. O Direito Penal está desafiado, pois sua estrutura antiga, voltada à punição pontual do indivíduo, desprovida de uma estratégia de combate à criminalidade, não tem mais correspondido aos anseios da sociedade. Em muitos casos, o risco de uma condenação tem se tornado razoável em comparação com o volume de riquezas que pode ser auferido pela prática criminosa. No universo do crime organizado e de colarinho branco, a perspectiva da perda do patrimônio ilícito acumulado é muito mais amedrontadora do que propriamente a imposição de penas restritivas da liberdade. Nessa linha, tem o Direito Penal internacional direcionado seus esforços para uma maior celeridade no confisco de bens e rendas obtidos ilicitamente, buscando assim dar efetividade à persecução penal, com o esvaziamento patrimonial dos acusados. O confisco processado na esfera civil, independente da ação penal, apresenta-se como instrumento moderno posto à disposição da sociedade. Pretende-se com este trabalho lançar algumas luzes sobre o assunto, esboçando uma argumentação favorável à absorção do instituto pelo Direito Brasileiro. 1 Breves fundamentos históricos do confisco civil O confisco pelo Estado tem suas origens nas sociedades mais remotas, sendo utilizado como forma de punição, de pacificação religiosa ou como meio de cobrança de impostos e taxas. Registro antigo da sua ocorrência pode ser encontrado na Bíblia, Êxodo 21:28, 21:29, no qual se prevê punição direta sobre a coisa – no caso um “boi” – que comete o ilícito: “28 Se um boi escornear um homem ou uma mulher e este morrer, certamente será apedrejado o boi e a sua carne não se comerá; mas o dono do boi será absolvido. Progredindo rapidamente no tempo, na época em que o comércio marítimo internacional começava a prosperar nas colônias norte-americanas, os governos coloniais eram financiados, principalmente, por obrigações aduaneiras sobre importações. Assim, as cortes locais passaram a experimentar a dificuldade de trazer sobre sua jurisdição um cidadão estrangeiro para que pagasse as obrigações fiscais. Passou-se a aceitar com facilidade a ideia de um processo judicial in rem, em oposição a uma ação in personam. A jurisdição in rem autorizava a abertura do processo judicial contra a própria coisa – a mercadoria objeto de pirataria ou que não fora taxada na forma da lei, bem como a embarcação que a transportava – com a sua apreensão (seizure). Ao fim do procedimento, servia a coisa como forma de satisfação da obrigação alfandegária. Posteriormente, o Congresso Americano promulgou “An Act imposing Taxes on distilled Spirits and Tobacco, and for other Purposes” (15 Stat 125, 133 – 20.07.1868).(1) Além das disposições fiscais, autorizava a lei o confisco pelo Estado de toda a propriedade privada, móvel e imóvel, envolvida na operação de produção ilegal de bebidas. Importante é destacar o fundamento principal do confisco civil de bens privados, qual seja, a concepção de que a própria coisa, quando envolvida ou decorrente de atos contrários ao Direito, torna-se ilegal. Verifica-se uma verdadeira desqualificação jurídica da propriedade, tornando nulos os títulos que terceiros afirmem possuir sobre o bem. A ilegalidade na sua obtenção, produção ou posse quebraria o vínculo de direito real existente entre o proprietário – que agiu contra a ordem jurídica – e a coisa. A “lacuna de domínio”, que surge com a nulidade do direito real privado, é completada pelo Estado com o confisco da coisa, passando esta ao domínio público. O processo judicial ou administrativo que vise ao confisco civil de bens não pode importar em qualquer pena corporal. Não há falar em persecução penal, pois a punição do suposto ofensor do Direito não é o objeto principal da ação. Pretende o Poder Público que se declare a nulidade do título privado sobre a coisa por esta ofender a ordem jurídica e, por consequência, que ela passe ao domínio público. Sobre essas bases se deve analisar a viabilidade do confisco civil na atualidade, como instrumento de combate à criminalidade com o esvaziamento patrimonial dos acusados. 2 Rápido panorama da legislação norte-americana sobre o confisco civil O Direito norte-americano, limitando-se este trabalho à esfera federal,(2) traz várias normas sobre o confisco de bens envolvidos em práticas ilegais, autorizando seu processamento de forma independente do processo criminal. Com especial destaque, as disposições contidas no Título 18 U.S.C § 981, considerada a “lei antilavagem”. Importante é a clara distinção feita pela lei quanto à viabilidade do confisco tanto civil como decorrente de sentença condenatória: “§ 981 (a) “§ 982 (a) As seções 1956, 1957 e 1960 preveem infrações relativas à lavagem de dinheiro e à condução de empresas de câmbio sem licença. O importante é notar que, apesar de o § 982 determinar o perdimento de bens como decorrência da condenação, paralelamente fica autorizado o confisco independentemente desta, com base no § 981. O Estado acusador não depende do processo criminal para a expropriação, permitindo um rápido esvaziamento patrimonial de grupos criminosos, com resultados práticos superiores à simples condenação a penas restritivas de liberdade. Ademais, desvincula-se a exigência da prova “beyond a reasonable doubt”(5) necessária à condenação penal, aplicando-se o padrão da preponderance of the evidence”.(6) É certo que a Suprema Corte do Estados Unidos, no caso One 1958 Plymouth Sedan v. Pennsylvania (380 U.S. 693 [1965]), deixou clara a natureza do confisco civil como procedimento “quase-penal”, exigindo a incidência de certas garantias constitucionais previstas para o processo criminal: “um processo de confisco tem natureza quase-penal. Seu objeto, como em um processo penal, é punir pelo cometimento de um delito contra a lei.”(8) No entanto, ao se pronunciar no caso United States v. Ursery (518 U.S. 267 [1996]), a Corte deixou claro que o confisco civil, processado em paralelo à ação penal, não implica dupla condenação pelo mesmo fato, pois a expropriação não tem a natureza de pena: “Estes confiscos civis (e confiscos civis em geral), temos, não constituem ‘punição’ para os fins da cláusula non bis in idem.”(9) É sob este enfoque, da clara separação entre as esferas penal e civil, quando se tratar da destinação de bens ilícitos, que se devem analisar a possibilidade e as vantagens da introdução do instituto no sistema brasileiro. 3 O confisco no Direito brasileiro Diferentemente do modelo americano, o confisco de bens no Brasil é criminal, dependente e acessório da sentença do juízo criminal. Tem previsão geral no artigo 91, inciso II, do Código Penal: “Art. 91 - São efeitos da condenação: Os bens do condenado por tráfico de entorpecentes, p. ex., ainda que com valores oriundos do tráfico, podem ter sido adquiridos nas formas lícitas do Direito Privado, pela via contratual, com a transferência voluntária entre vendedor e comprador e, no caso de imóveis, com o devido registro. A norma civil, como posta, não cria oposição ao negócio, o bem efetivamente passa ao domínio do réu. Proferida a sentença criminal condenatória, com trânsito em julgado, é a norma pública (artigo 91 do Código Penal), sobrepondo-se ao ordenamento privado por razões de interesse coletivo, que desfaz o vínculo real, transferindo juridicamente a propriedade dos bens para o Estado acusador. No entanto, ainda que possa ser espécie de “efeito civil” da condenação, dela é sempre decorrente. Ou seja, a efetivação da medida sempre seguirá a sorte do processo penal, pois apenas a condenação será capaz de desencadear os efeitos do artigo 91 do Código Penal. Ainda que se busque abrigo em normas mais modernas, como a recente Lei 11.343/2006, que dispõe sobre o tráfico de entorpecentes, estas, seguindo a tradição brasileira, mantém a vinculação entre condenação e confisco. Os artigos 60 a 64 do referido diploma legal, compondo o Capítulo IV, “Da Apreensão, Arrecadação e Destinação de Bens do Acusado”, apesar de preverem hipóteses de sequestro, recolhimento e alienação cautelares, bem como de uso de bens pelo Poder Público, entre outras medidas restritivas da propriedade com aplicação independente de condenação, vincula a destinação final ao resultado da ação penal. É o que se pode verificar dos parágrafos 9º do artigo 62 e 4º do artigo 63: “Art. 62. Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte, os maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade de polícia judiciária, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma de legislação específica. Art. 63. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, seqüestrado ou declarado indisponível. É certo que o Supremo Tribunal Federal, ainda na década de 80, já havia manifestado a natureza “civil” do perdimento de bens previsto pelo Código Penal. No julgamento do Recurso Criminal 1.433, a Corte Suprema manteve o confisco legal, ainda que o condenado tenha sido anistiado: “A ANISTIA, QUE É EFEITO JURÍDICO RESULTANTE DO ATO LEGISLATIVO DE ANISTIAR, TEM A FORÇA DE EXTINGUIR A PUNIBILIDADE, SE ANTES DA SENTENÇA DE CONDENAÇÃO, OU A PUNIÇÃO, SE DEPOIS DA CONDENAÇÃO. PORTANTO, É EFEITO JURÍDICO, DE FUNÇÃO EXTINTIVA, NO PLANO PURAMENTE PENAL. A PERDA DE BENS, INSTRUMENTOS OU PRODUTO DO CRIME, É EFEITO JURÍDICO, QUE SE PASSA NO CAMPO DA EFICÁCIA JURÍDICA CIVIL, NÃO PENAL, PROPRIAMENTE DITO. NÃO É ALCANÇADA PELO ATO DE ANISTIA, SEM QUE, NA LEI, SEJA EXPRESSA A RESTITUIÇÃO DESSES BENS. NO CASO DE CRIME DE SEGURANÇA NACIONAL, A PERDA DE INSTRUMENTOS OU PRODUTOS DO CRIME É EFEITO JURÍDICO RESULTANTE DO ATO JURÍDICO, JUDICIAL DE CONDENAÇÃO (CÓDIGO PENAL MILITAR, ARTIGO 109, II). RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.(destaquei).”(10) O mesmo entendimento vem respaldado pelo texto do inciso XLV do artigo 5º da Constituição: “XLV nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;” Contudo, apesar de “efeito civil”, por deficiência da lei, esse não existe ou não pode ser produzido sem o juízo penal condenatório, transitado em julgado. Por tal razão, a expropriação, em nossa ordem jurídica, é criminal, dependente do processo penal. Como exceção, pode-se citar apenas o artigo 243 da Constituição Federal, que prevê a expropriação, sem indenização, de glebas utilizadas para culturas ilegais: “Art. 243. As glebas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas serão imediatamente expropriadas e especificamente destinadas ao assentamento de colonos, para o cultivo de produtos alimentícios e medicamentosos, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.” Todavia, diferentemente do modelo americano, não se trata de verdadeira previsão de confisco civil. A disposição constitucional autoriza apenas o confisco de bem imóvel a que se tenha dado destinação ilegal (cultivo de plantas psicotrópicas). Ou seja, não há, p. ex., previsão para a expropriação civil de imóvel adquirido com o lucro do tráfico de drogas. A previsão é extremamente restrita, aproximando-se mais de uma desapropriação com dispensa de indenização do que propriamente de um confisco, pois tem por base o não atendimento da função social da propriedade imóvel, utilizada para o cultivo ilegal. Pode a aquisição do bem ser lícita, apenas sua destinação antijurídica é punida pela perda da coisa sem indenização. A hipótese se confunde com a desapropriação por não atendimento da função social, apenas agravada a punição por ser não indenizável. Ou seja, trata-se de uma exceção constitucional ao dever de ressarcimento do Estado. Por sua vez, o confisco propriamente dito tem seu centro de gravidade na própria coisa, na sua origem ilícita, mesmo que lhe tenha sido data aparência lícita.(11) Assim, pode-se concluir que não há na ordem jurídica brasileira previsão de expropriação de bens oriundos de atos ilícitos que não seja a decorrente de condenação criminal. 4 Necessidade e viabilidade jurídica do confisco civil no ordenamento jurídico brasileiro Assente que o confisco de bens, fruto de práticas ilícitas, depende da condenação criminal, pode-se concluir, de início, que o nível de certeza “acima de qualquer suspeita” da prova penal, necessária para a imposição de penas corporais, passa a ser exigido ao perdimento de bens. Quer dizer, a expropriação, que poderia ser requerida em um juízo cível, demandando apenas a preponderância de provas, fica adstrita à sorte do processo penal. A incongruência é flagrante, pois a “máxima da certeza”, necessária à condenação, é instrumento de proteção ao indivíduo quanto à imposição de penas corpóreas. O Direito Penal, salvo raríssimas exceções, está edificado na ideia da punição pelo cerceamento da liberdade, pois é a imposição de prisão lato sensu que consta, em regra, do preceito secundário da norma. Por tal razão, considerando a previsão de restrição à liberdade e, portanto, à dignidade do indivíduo, estabelece o Direito a garantia da condenação apenas com a certeza das provas. A gravidade das consequencias impõe um encargo probatório e argumentativo maior ao juízo condenatório. Contudo, o perdimento de bens, como antes referido, é decorrência civil da sentença penal condenatória, ou seja, não configura pena e não atinge o núcleo duro de garantias de dignidade, como a restrição de liberdade. Pode-se dizer que o artigo 91 do Código Penal é espécie de “extensão da coisa julgada” criminal para a esfera civil. Em outras palavras, considerando a maior amplitude da produção probatória na ação penal e a máxima efetivação da garantia do contraditório, o legislador, visando à economia de atos e privilegiando a certeza em última instância que deflui do juízo criminal condenatório, autorizou a produção de efeitos civis, independentemente de nova demanda no juízo competente. Isso porque a atuação na esfera patrimonial do agente é, em termos estritos, estranha à finalidade primordial do Direito Penal, qual seja, a imposição de penas ao culpado. A certeza dos fatos apontados na decisão penal, que reconheceu a ilicitude, passa a dispensar a sentença produzida em processo de conhecimento apenas por expressa previsão do legislador. O confisco é próprio do juízo cível, sendo decorrente e secundário no juízo criminal. Dito isso, fica clara a verdadeira lacuna existente no ordenamento atual. Ao tempo em que o confisco – de ontologia civil – é previsto como consequencia secundária de decisões proferidas pelo juízo criminal – que lhe é estranho – apenas por economia processual (artigo 91 do Código Penal), não há qualquer autorização legal para sua efetivação exatamente pelo juízo que lhe é próprio, o juízo cível. O confisco fica à mercê dos acontecimentos do processo criminal, submetido aos ditames do Direito Penal, cuja finalidade é a proteção de outra gama de direitos. Ainda que razoável fosse exigir o mesmo nível probatório para a medida expropriatória, apenas por argumentação, outros fatores, incompatíveis com sua finalidade patrimonial, podem inviabilizá-la. Destaquem-se a morte do acusado e a prescrição penal, ocorrências que podem ter lugar antes da condenação e provocar a extinção prematura da punibilidade. Apesar de não guardarem qualquer relação com a destinação dos bens ilícitos, acabam inviabilizando a sentença condenatória, única capaz de autorizar a perda dos bens. Não há razoabilidade, p. ex., em permitir a liberação de propriedade ilícita aos herdeiros do réu falecido, pelo simples motivo de não ter sido condenado. A inviabilidade da imposição da pena não retira o caráter ilícito do título de propriedade dos bens decorrentes da prática criminosa. A ilicitude atinge juridicamente o bem, inclusive do ponto de vista do Direito Civil. A aquisição da coisa resultado ou produto do crime não tem base jurídica, pois propriedade ou domínio são conceitos jurídicos criados pela ordem do Direito. Ninguém pode ter direito real sobre determinado bem sem que a lei assim o permita. Na lição de Pontes de Miranda, ao Direito cabe definir o que é jurídico ou não: “Por outro lado, nos tempos em que se admitiram coisas e animais como sujeitos de direito, nem por essa, para nós, hoje, estranha concepção, se deformava o direito: as regras jurídicas é que, incidindo, determinam as subjetivações e objetivações.” (destaquei)(12) Em uma interpretação sistemática, não se pode dizer que os bens adquiridos por atos ilícitos possam, de alguma forma, estar enquadrados em institutos lícitos do Direito Civil. Esse é o fundamento para separar o juízo criminal do fato de um juízo civil – que poderia até ser administrativo – quanto à legalidade do título de domínio sobre bens produtos do ilícito. A previsão infraconstitucional de um “confisco não penal” não ofende qualquer garantia constitucional prevista no artigo 5º. Nos termos do inciso LIV do referido, exige-se apenas o devido processo legal: “LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;” Da mesma forma, a garantia da propriedade prevista no inciso XXII(13) não pode ser interpretada como empecilho ao confisco de bens obtidos ou adquiridos como meios ilícitos. Os direitos preservados pelo artigo 5º são aqueles formados e constituídos pela legalidade; não há o que reclamar com base em atos antijurídicos. No atual panorama, faltando à ordem brasileira disposição legal que autorize a efetivação do confisco em procedimento cível, caso não obtida a condenação, por ausência de provas ou pela extinção da punibilidade, não há outros meios jurídicos que permitam ao Estado desafiar a licitude da propriedade. Os valores obtidos com o tráfico de armas ou lavagem de dinheiro, p. ex., na ausência de condenação, permanecerão na esfera jurídica do acusado sob o manto da licitude. Importa referir que não se pretende retirar do juízo criminal a última palavra quanto à ocorrência ou não do ilícito penal. Ao contrário, os artigos 65 a 67 do Código de Processo Penal mantêm sua aplicação, ainda que haja previsão de confisco na esfera cível: “Art. 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato. Art. 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil: Caso se entenda estar provada a inocência do réu, os efeitos da coisa julgada criminal necessariamente impedirão qualquer pretensão estatal de confisco no juízo cível. No entanto, no insucesso da persecução penal, seja pela extinção da punibilidade, seja pela ausência de provas suficientes ainda assim a questão patrimonial poderá ser debatida no foro que lhe é próprio. O Estado poderá desafiar o réu a provar a origem lícita de seus bens em processo regular, com direito ao contraditório próprio do processo civil. Contra a adoção do instituto, poder-se-ia, ainda, argumentar sobre os direitos que eventuais terceiros de boa-fé possam ter sobre o bem. Como a indisponibilidade e o posterior confisco decorreriam unicamente de decisões do juízo cível, não haveria espaço para que terceiros formulassem “pedido de restituição”, previsto no artigo 120 do Código Penal. No entanto, considerando que a relação processual que se instaura é de natureza civil, o embate sobre a origem da propriedade – lícita ou ilícita – e sua real titularidade pode admitir a intervenção de terceiros. A própria lei já aponta soluções instrumentais para que o terceiro que resiste tanto à pretensão do autor como à do réu possa ingressar no feito. A oposição, prevista no artigo 56 do Código de Processo Civil, traz a garantia de acesso do terceiro ao litígio: “Art. 56. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu, poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos.” Portanto, além de necessário como forma de garantir uma via processual mais adequada ao combate de práticas ilícitas, o confisco civil adapta-se com facilidade na bem experimentada estrutura processual, que garante a efetiva participação das partes em contraditório, bem como a intervenção de terceiros interessados. Ainda que inviável uma condenação, considerando todos os percalços pelos quais deve passar a ação penal, não se pode retirar da sociedade a possibilidade de desafiar, na esfera cível, a legitimidade de bens de origem ilícita, buscando direcioná-los ao interesse público por meio do confisco pelo Estado. Não existem “direitos” na ilegalidade, pois a proteção constitucional do patrimônio é direcionada apenas àquele obtido licitamente. Nessa linha, buscou-se, ainda que de forma superficial, expor uma visão clara quanto à necessária separação entre um juízo penal, voltado ao fato típico e focado na viabilidade de imposição de uma pena restritiva de liberdade, e um juízo cível, limitado apenas à questão da licitude do patrimônio do acusado. O confisco civil de bens, apesar de historicamente ser um instituto antigo, mostra-se como ferramenta moderna para o combate atual das várias formas de criminalidade. Cabe ao legislador dar a devida atenção ao tema, criando as ferramentas legais (infraconstitucionais) para a efetivação desse tipo de expropriação em prol da sociedade. Bibliografia DE MIRANDA, Pontes. Tratado de Direito Privado. Tomo 2. 2. ed. Campinas: Bookseller, 2000. FRIEDENTHAL, Jack H; KANE, Mary Kay; MILLER, Arthur R. Civil Procedure. 4. ed. St. Paul: Thomson West, 2006. MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado – Parte Geral. 4. ed. São Paulo: Método, 2011. OLIVEIRA, Eugenio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 14. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. SIBLEY, Montgomery Blair. Federal Forfeiture Practice Manual. 3. ed. Lexington: Center for Forfeiture Law, 2012. 1. Em uma tradução livre: “Um ato [uma lei] impondo tributos sobre as bebidas alcoólicas e o tabaco”. 2. Considerando que os Estados Unidos da América organizam-se politicamente em federação “perfeita”, tanto o governo federal como os governos estaduais podem editar normas regulando as hipóteses de confisco civil de bens, sendo inúmeras as disposições legais sobre o tema. 3. Tradução livre de: 4. Tradução livre de: 7. Ficam garantidos a necessidade de prévia notificação, a audiência do réu, o direito de produzir provas, etc. 8. Tradução livre de: 9. Tradução livre de: 10. RC 1433, Relator(a): Min. FIRMINO PAZ, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/1981, DJ 26-03-1982 PP-02561 EMENT VOL-01247-01 PP-00025 RTJ VOL-00101-02 PP-00516. 11. De forma exemplificativa, o dinheiro auferido pela prática ilícita poderá ser empregado na aquisição de outros bens, operando-se conforme o Direito, por meio de contratos, escrituras, etc. No entanto, fica autorizado o confisco desses bens pela origem antijurídica, que lhe retira as bases de sustentação legal do direito de propriedade, pois são proveito do crime.
|
||
Referência bibliográfica (de acordo com a NBR 6023: 2002/ABNT): |
||
|